Clube Literário do Porto, 09.06.2009
10º Aniversário do Falecimento de Daniel Faria
Será possível cantar agrilhoado em Babilónia? Cantar de dentro dos muros da cidade-cativeiro? Cantar de dentro das pedras da cidade-cativeiro? Não sei, mas não creio. Imagino que aí, como aqui quase sempre, o canto se desfaça em lamento, em pranto, em soluço, em mudez, em jejum, em emagrecimento, em insónia, em loucura, em delírio, em visão – tudo de dentro das pedras, através das pedras que fermentam e crescem no chão e na muralha.
Não sei cantar em Babilónia, mas escrevo o mais que posso, ao ritmo incerto do sangue que aquece e arrefece, instável. Escrever em Babilónia acontece em toda a escrita. Aí, como aqui quase sempre, se delira uma salvação, um regresso, uma voz que chama no deserto, para além do deserto. Ora, não há nada mais árido e sequioso do que um coração. Pois, um coração tem sede de todas as fontes e tem vincos de todos os grilhões. Logo, há sempre muita Babilónia nos músculos do coração.
A poesia com que vivo vem toda de Babilónia. De tal modo que tendo a acreditar que a poesia é a linguagem própria de quem se compreende numa cidade-cativeiro no peito do deserto e deseja ardentemente uma outra terra ou, pelo menos, a Promessa de outra terra.
Daniel compreende o deserto. Escreve de Babilónia, não de Jerusalém. Escreve da casa transitória, do corpo frágil de mendigo, não do átrio de um templo em festa, mas quase canta, inspirado pelas visões da queda de todos os reinos animais e minerais. Escreve com o coração a incendiar o deserto e a transformar-se na pedra do degrau da escada que sobe para a luz. O coração devém escada por onde sobem e descem os anjos que redigem as nascentes.
“Terceiro ano do reino de Joaquim, rei de Judá.
Nabucodonosor, rei da Babilónia, cerca Jerusalém. O Senhor entrega-lhe Joaquim com diversos bens do templo que leva para a terra de Shinear para a casa dos seus deuses: esses bens aumentam o seu tesouro.” (Dan 1, 1-2) Daniel é levado para Babilónia e aí permanece até ao primeiro ano do reinado de Ciro. Daniel, íntimo da Ciência do Altíssimo, é chamado para servir Nabucodonosor. Interpreta os seus sonhos enigmáticos, explica-lhe a queda da estátua de pés de argila e a desgraça da árvore mais frondosa da terra. Decifra-lhe, portanto, os sinais do fim.
Daniel é a voz fissurada do Inaudível e a voz do Grande que o atravessa como um exército com todas as espadas e lanças em brasa. Daniel – a Voz do Penetrante – sofre de hemorragias e de fracturas múltiplas, expostas, insuperáveis, insolúveis, entre a boca e a fonte, entre o sangue e a palavra. Daí as lágrimas que sempre precedem as visões. Daniel tem visões inquietantes de guerras iminentes e de monstros divisores. Escreve-as. O seu livro é o Primeiro Livro do Apocalipse e os seus inimigos primogénitos de Babilónia lançam-no no fosso dos leões, mas os leões só os devoram a eles, como quem devora o Absurdo.
Sinto sempre confusamente uma angústia que me fala e me faz ditados de sinais. A poesia nasce essencialmente de fracturas múltiplas – fracturas expostas, insuperáveis, insolúveis no momento da escrita. A fractura primordial impõe-se como distância – e toda a poesia, como a vivo, é uma acção e um padecimento à distância, que pede um esforço de travessia, de busca e de aproximação. Por isso, os poemas são testemunhos de forças desejantes e de obstáculos. Por isso, também, há tanta arte cartográfica, tanta ciência do tempo e do espaço, na poesia – e a sua afinidade com o lançamento da voz procederá inevitavelmente da imaginação das posições, dos hiatos e dos movimentos possíveis. A poesia lança a voz, arrisca-se nas labaredas instantâneas da voz, perde o chão, sobe à boca, ao rubor da pele, seja no grito puro de uma simples vogal desarticulada, seja no grito amoroso de um nome próprio, seja no grito orante ao Sem-Nome ou ao Nome-Íntimo-de-Todos-os-Nomes. Os poemas, como os vivo, balançam como pontes de corda sobre o abismo, significam aquela distância abstracta e a distensão concreta de Mim, desejando-Te, sempre nocturnamente, sempre no meio de uma insónia. Há, de certo, outros poemas que não conheço: poemas de labor absolutamente diurno, bem equilibrados entre o sono e a vigília, entre a noite e o dia, mas esses são outra espécie de animal doméstico que nunca me nasceram em casa. Os poemas, como os vivo, em estado livre, denotam perturbações muito adaptativas dos ritmos circadianos, tendem naturalmente a ser nocturnos; mostram desconhecer qualquer plenitude, sobretudo a da luz, embora estejam sempre a medir as estrelas com os mais desvairados astrolábios e sempre concentrados nos elementos mais incandescentes. Os poemas, como os vivo, em estado livre, batem-se corpo a corpo com a distância. Assim, compreendo que a poesia se extinga ou se converta em dança quando se vence – ou se imagina que se vence – a distância. No instante do êxtase unitivo, se tal milagre existe, poderá dizer-se que o corpo místico ou corpo amante transmutam e suspendem o meu corpo original, como lugar fissurado, e libertam uma outra verbalidade que interrompe a escrita no tacto. Os corpos místicos e amantes escrevem com os dedos por cima e por baixo da pele, entram por outra linguagem, passam à era da pós-escrita. Toda a poesia, como a vivo, aspira e ferve pelo tacto, o silêncio do tacto. O poema, onde me desenho, incendeia-se, contorce-se, projecta-se para demonstrar ou celebrar a fracção e a incompletude.
Pergunto-me incessantemente se esta “aspiração” pelo silêncio do tacto absoluto não será um equívoco pelo qual a poesia se descompreende e se vota à impossibilidade de Dizer, porque sempre habitada pelo movimento que só repousa num outro regime que não o do Dizer? Pergunto-me se o dizível não pode curar-se desta febre que o faz inclinar-se para o seu Outro, o da redacção dos dedos sob e sobre a pele, se o dizível não pode repousar na sua célula, se ele tem de desejar a metamorfose em tangível? Pergunto-me: qual a vocação ou qual a natureza da voz que chama a poesia à vida, que faz da vida uma vitalidade? Pergunto-me: qual o “acréscimo de ser” ou o “acréscimo de viver” que a imaginação poética pode trazer consigo ao trabalhar de dentro do sistema da língua, que por si só define já possibilidades, realidades e necessidades? Pergunto-me: como se cruzam e se fecundam reciprocamente a força estruturante da linguagem e a força transgressiva dos silêncios somatizados?
A poesia de Daniel, como a vivo, escolhe a gravidade dos caminhos do deserto, num horizonte metafísico optimista, anti-trágico, onde a palavra declara uma adesão confiante a si própria e à sua eficácia para produzir a nudez da Interlocução. O seu Quase-canto, simultaneamente expressivo e performativo, apresenta a estrutura de um sinal eficaz, ou seja, a estrutura de um sacramento, pois este sinal “produz o que significa” e, assim, funde o real com o imaginário, transfigurando ambos e levando a linguagem a lugares duros e concretos, onde ainda não tinha ido. Aí, a linguagem regressa sempre – por fora e por dentro – ao Lugar do Outro, por outro caminho.
Esse Quase-canto significa um desejo de relação, fundada num tipo único de sangue e de circulação sanguínea abraçando a morte como a irmã singular que abre a porta à imersão no Sol Absoluto, olhos nos olhos. Esta relação define o modo e a língua da auto-compreensão, com duas âncoras a rasgar os fundos: a carência e o desejo, com um sentido agudo do Último e do Penúltimo desde o Ante-Primeiro: arqueologia e escatologia no meio das águas, no meio do entendimento gradual da aridez. Exemplares, no seu corpo a corpo com os motores das chamas, os poemas que constituem a série sobre A Noite Escura de S. João da Cruz descrevem a viagem ardente, a conversão do coração em escada. Eles traçam o caminho inclinado, eles simbolizam e realizam um “exercício espiritual” de purificação do sangue pela sede. Partem do não-entendimento da sintomatologia teologal, o sequioso vazio; atravessam os canais que levam de uma noite a outra noite, pela obscuridade de Deus a escrever com os dedos, sobre e sob a pele; e culminam, muito fundos e pacíficos, no preenchimento transbordante onde um canto novo sem palavras, uma unidade branca, faz recompreender-se e renascer.
Quanto a mim, não sei se creio no poder da Palavra para lhe subordinar a Vida ou se permaneço sempre na inquietude assimétrica entre a brutalidade do vivido e a inevidência do Sentido. A verdade é que sinto constantemente uma falha na língua – e na boca e no corpo todo e em todos os abraços que nunca abraçam Bastante. E confesso, por fim, que me morde muito uma ferida ininterrupta: a ausência de verbos copulativos, o “ateísmo” abissal da linguagem – de todas as linguagens. Os meus poemas terminam sempre a começar, “hesitando” entre a possibilidade e a impossibilidade, “não sabendo se sim… ou se não…”. Cordas desfibrando-me sobre o abismo. Não sei se as cordas são de pontes, ou de sombras, ou de coisas de febre e de jejum demasiado prolongados… Se digo que me dói a espuma das ondas retraindo-se, não sei onde termina a metáfora e começa o corpo. Não sei se há outra cidade que Babilónia. Só conheço Jerusalém dos livros terrestres e não me reconcilia com o pó. Cantar com tanto pó na boca? Posso? Não sei…
* Comunicação de Paulo Renato na sessão das Quartas Mal-Ditas "urgência de outro sítio" (que assinalou no Clube Literário do Porto uma década sobre o desaparecimento do poeta Daniel Faria, no último 9 de Junho), que o CLP tem o prazer de publicar, agradecendo ao autor a gentileza.

.JPG)





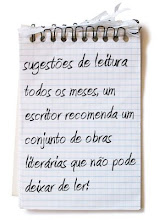




Sem comentários:
Enviar um comentário